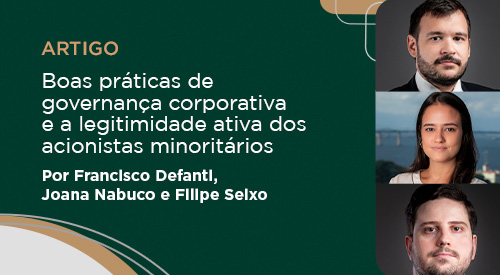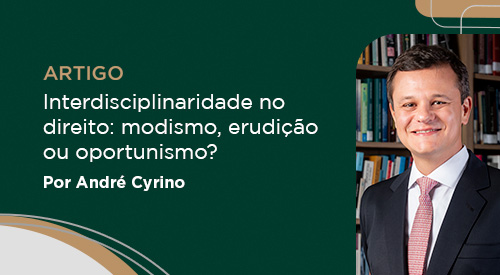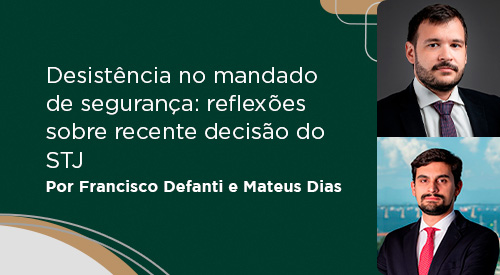Por Nicolau Maldonado.
Artigo publicado originalmente no portal ConJur.
Em 6 abril de 2023, foi publicado o Decreto nº 11.475/2023, que promulga o Tratado Constitutivo da União das Nações Sul-Americanas (Unasul). De novo. O tratado foi celebrado pelo Brasil em 2008, chancelado pelo Decreto Legislativo nº 159/2011 e promulgado pelo de nº 7.667/2012.
Em 2019, entretanto, em meio a uma mudança de rumos da política externa brasileira, o decreto de promulgação foi expressamente revogado pelo de nº 10.086/2019, o que foi questionado na ADI nº 6.544 por falta de prévia autorização do Congresso.
Deixando de lado a discussão sobre o mérito da reabilitação da Unasul — retomada de prestígio ou necromancia decorativa? —, o novo episódio da tramitação é mais uma oportunidade de debater o rito da internalização de tratados no direito brasileiro e suas consequências. Dessa vez, não houve nova deliberação legislativa quanto ao reingresso na Unasul. O decreto de 2023 elenca em seus consideranda o decreto legislativo de 2011, o mesmo que consentiu à primeira promulgação em 2012.
Afinal, quais os papéis reservados pela Constituição à Presidência da República e ao Congresso na celebração de tratados pelo Brasil? Qual a validade dos atos executivos que promulgaram, revogaram e promulgaram de novo o instrumento constitutivo da Unasul? E qual seu status de vigência hoje?
O rito de internalização de tratados, em suma
A Constituição foi econômica ao dispor sobre as competências do legislativo e executivo na celebração de tratados. Ao presidente cabe, privativamente, “celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional” (artigo 84, VIII, CRFB). Ao Congresso, exclusivamente, “resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional” (artigo 49, I, CRFB). Os regimentos internos pouco densificam o tratamento constitucional. De mais significativo, o da Câmara dispõe que pode ser de urgência a tramitação de mensagens do executivo que versem sobre tratados (artigo 151, j)) e o do Senado faculta ao seu presidente conferir competência terminativa a comissões na apreciação de tratado (artigo 91, § 1º, I).
Com base nesses lacônicos dispositivos, hoje o rito de internalização tem natureza preponderantemente costumeira. Em síntese, a regra é que, após a assinatura de um tratado ad referendum do Congresso, o presidente da República envie uma mensagem à Câmara dos Deputados com o texto do instrumento assinado acompanhada de exposição de motivos. Cabe o asterisco de que o envio da mensagem é ato discricionário da Presidência.
Recebida a mensagem, o presidente da Câmara designa as comissões de tramitação. No percurso, é formulado um projeto de decreto legislativo, que é submetido à votação no Plenário. Aprovado, o projeto é remetido ao Senado, onde é lido em Plenário e despachado pela Presidência da Casa. Em geral, é deliberado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e levado à votação em Plenário. A priori, as votações são tomadas em maioria simples. Ao fim da tramitação, o presidente do Senado promulga o decreto legislativo autorizando a ratificação do tratado pelo executivo.
A promulgação interna da norma se perfaz na forma de decreto editado pela Presidência da República. Dentre as múltiplas interpretações sobre a natureza desse ato, domina a visão de que ele confere vigência ao tratado no Direito brasileiro. Esses são, abreviadamente, os passos do rito de internalização de tratados no direito brasileiro. Há algumas variações (como a que envolve tratados de direitos humanos ou acordos executivos), porém a breve exposição basta para situar os imbróglios levantados pelo ingresso, saída e reentrada do Brasil na Unasul.
Ruído das vontades na internalização do tratado constitutivo da Unasul
No caso da internalização do Tratado Constitutivo da Unasul, se levantam duas controvérsias. Primeiro: seria necessária autorização do Congresso para a denúncia (a “rescisão”) do tratado pelo Executivo, tal como se requer para ratificação do instrumento? Segundo: seria necessária nova autorização do Congresso para a nova ratificação do tratado constitutivo da Unasul?
No Direito brasileiro, quem representa o Brasil perante outros estados e conduz a negociação, celebração, emenda e denúncia de tratados é o presidente da República. E quem “resolve definitivamente” sobre os tratados “que acarretem encargos ou compromissos gravosos” é o Congresso Nacional. Trata-se de ato subjetivamente complexo, para o qual são necessárias as vontades do legislativo e executivo federais. Mas qual ato? A locução “resolver definitivamente” não explica se a vontade do Congresso é exigida apenas para a celebração ou também para a denúncia de tratados pela presidência.
Não há resposta óbvia sobre a validade da revogação da primeira promulgação em 2019, consubstanciando internamente a denúncia ao tratado constitutivo da Unasul sem participação legislativa. A ADI nº 6.544 enquadra os principais argumentos pela invalidade, de que a denúncia é uma expressão volitiva que necessitaria de “resolução definitiva” parlamentar, inclusive porque no Brasil tratados são equiparados a leis, o que vedaria sua revogação unilateral pelo executivo. Também incidiria o paralelismo das formas, impondo-se para a extinção da norma o mesmo procedimento que a criou.
Na prática, as denúncias de tratados não são levadas ao Congresso. Mas prática não necessariamente é norma jurídica. Considerando que o rito de internalização de tratados é ordenado pela Constituição, e não por normas internacionais, é na Carta Magna que estarão suas regras. Posto isso, a dicção constitucional não parece distinguir se o crivo legislativo é necessário para ratificação ou denúncia de tratado pelo executivo.
Tal crivo envolve a definitividade da decisão sobre o tratado e se essa decisão carrega encargos ou compromissos gravosos. Por certo, a denúncia se encaixa no critério da definitividade, já que é o ato que termina o vínculo do Estado ao instrumento. Quanto à dificuldade em qualificar encargos ou compromissos gravosos, uma métrica básica seria verificar como se qualificou a adesão ao instrumento. Se a ratificação foi qualificada com encargo ou compromisso gravoso, a denúncia, via de regra, também deveria ser.
Quanto à controvérsia sobre a nova promulgação do Tratado Constitutivo da Unasul, o debate é menos avançado. De partida, vale ponderar que a autorização legislativa de 2011 não expira e nem obriga a Presidência à ratificação do tratado. Sua publicação faculta ao presidente da República promulgar o instrumento. Discricionariamente, quando conveniente. Se o Decreto de 2023 fosse a primeira promulgação, com base no aceite legislativo de 2011, não haveria celeuma. Acontece que existiu uma primeira promulgação em 2012, uma denúncia em 2019 e agora há uma segunda promulgação.
A perplexidade está expressa no Requerimento de Informação nº 785/2023, apresentado por deputado federal (e ainda não aprovado) para que o chanceler explique por que a nova adesão não passou pelo parlamento, considerando a denúncia anterior. É preciso de antemão dizer que eventual invalidade do decreto de 2019 ou sua revogação não atingiriam o ato internacional da denúncia. Consta que ele obedeceu aos procedimentos internacionais e, portanto, não pode ser desfeito com a anulação do ato interno que revogou a promulgação. Uma “repristinação” do decreto de 2012 não teria efeitos internacionais, e era mesmo necessário percorrer novamente o iter internacional de ratificação. Não seria preciso também um novo decreto legislativo?
A resposta pode estar nos “encargos e compromissos gravosos” referendados pelo decreto legislativo de 2011. Em sendo o mesmo tratado com o mesmo texto daquele já consentido pelo parlamento, em tese, os ônus são também os mesmos. A vontade legislativa já assentiu a esses mesmos ônus e não foi alterada. Esses fatores soam suficientes para sugerir uma desnecessidade de novo decreto legislativo.
Por outro lado, tampouco soa absurdo defender a imprescindibilidade de uma nova validação parlamentar. É que, além da vagueza da redação constitucional na definição de “encargos e compromisso gravosos” (que historicamente favorece a participação legislativa na internalização de tratados), é estranho que não seja aberta janela de reflexão ao Congresso sobre as diferentes posturas adotadas pelo Brasil em relação à Unasul nos últimos anos. Jeito ou outro, é preciso evoluir o debate.
Algumas considerações prospectivas
O percurso da internalização do tratado, um tanto turbulento, traz a oportunidade de discutir e aperfeiçoar esse procedimento constitucional, até por suas feições costumeiras. Quanto à denúncia de tratados, caso o STF não entenda pela perda de objeto da ADI nº 6.544 (uma saída possível em vista do retorno à Unasul), seria muito proveitosa uma decisão judicial sobre o papel parlamentar nesse procedimento. Os argumentos postos parecem indicar a necessidade de permissão do legislativo, mas, qualquer o desfecho, ao menos se teria uma orientação institucional mais firme do que a existente hoje.
Quanto à função do Congresso na segunda ratificação do tratado, a situação é mais incerta. Quem sabe o Requerimento de Informação nº 785/2023 seja uma opção para rascunhar alguma orientação institucional. Ou talvez seja uma proposição destinada às gavetas. Sem manchetes à vista, a política aparentemente acomodou a questão e não se imagina uma intensificação da controvérsia.
Aos olhos do direito internacional, a nova ratificação basta para que a Unasul possa ter vida própria. No direito brasileiro, a vigência do tratado é sustentada pela presunção de legitimidade do decreto de 2023. Naturalmente, a celeuma jurídica subsiste, dormente até uma outra ocasião, como também aquela avidez por respostas típica aos juristas mais curiosos.